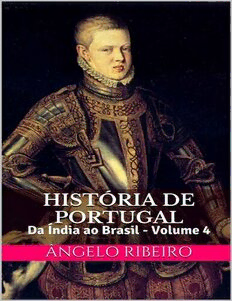
História de Portugal - Da Índia ao Brasil PDF
Preview História de Portugal - Da Índia ao Brasil
HISTÓRIA DE PORTUGAL DA ÍNDIA AO BRASIL VOLUME 4 Ângelo Ribeiro (Autoria) José Sousa (Editor da Coleção) Sobre a coleção “História de Portugal” A coleção “História de Portugal” pretende dar a conhecer os acontecimentos e personagens que marcaram a vida deste país em mais de 900 anos de existência. O formato digital segue a tradicional forma dos “fascículos” impressos, composto por 11 volumes. Desta forma, procuramos alimentar o interesse do leitor pela história portuguesa, através de leituras rápidas mas sérias dos momentos que marcaram a evolução de Portugal. Os primeiros 7 volumes reproduzem textos de brilhantes historiadores como Ângelo Ribeiro. Newton de Macedo e Hernâni Cidade, elaborados para a monumental “História de Portugal” publicada entre 1928 e 1982, sob a direcção de Damião Peres. Já os volumes 8 a 11 relativos ao período entre 1890 e 2012, serão da autoria do editor da presente coleção, José Sousa Volumes da Coleção: Volume 1: A Fundação da Nação Volume 2: Morte e Revolução: De Afonso III a João I Volume 3: A Epopeia dos Descobrimentos Volume 4: Da Índia ao Brasil Volume 5: A Restauração da Independência Volume 6: O Tempo do Marquês Volume 7: Dois Irmãos, Um Trono Volume 8: O Fim da Monarquia Volume 9: A República: Vitória e Queda Volume 10: Salazar Volume 11: Portugal em Democracia Índice Sobre a coleção “História de Portugal” Índice Índice de Imagens INTRODUÇÃO D.Manuel I D.João III D.Sebastião Volume 5: A Restauração da Independência Índice de Imagens D.Manuel I Vasco da Gama. Vasco da Gama perante o Samorim de Calecute. Chegada de Vasco da Gama a Calecute. A 4ª armada de exploração da Índia enviada em 1504 Pedro Álvares Cabral (1467-1520) Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. A primeira missa no Brasil. D.João III (1502-1557). Inácio de Loyola (1491-1556). D.Sebastião (1554-1578). D.Catarina de Áustria. Batalha de Alcácer Quibir (1578). Cardeal D. Henrique (1512-1580) Pedro Nunes (1502-1578) Frontispício de “Os Lusíadas” (1572) INTRODUÇÃO Este quarto volume da “História de Portugal” que chega até ao leitor poderia ter outro título, mais condizente com o período aqui analisado. Com efeito, entre 1490 e 1580 Portugal vive mudanças dramáticas na construção do seu Império além-fronteiras. A política de expansão marítima iniciada pelo Infante D. Henrique prossegue no reinado de D. João II com a exploração da costa africana, para atingir o seu cume entre 1498 e 1500, já em plena governação de D. Manuel I. É nos primeiros tempos do governo Manuelino que o País empreende os dois maiores feitos da sua História Expansionista: em 1498 com a descoberta do Caminho Marítimo para a Índia; e em 1500 com a chegada - não necessariamente a “descoberta” - do Brasil. Os feitos de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral - o de este último fruto mais de mudanças súbitas nas condições meteorológicas - abriram novos horizontes e deram realmente a conhecer “Novos Mundos ao Mundo”. Juntamente com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, em 1492, constituem os maiores empreendimentos do Ser Humano na viragem para o século XVI. O controle total sobre o comércio europeu com a Ásia e a América do Sul granjeiam ao país riquezas nunca antes vistas. Das regiões descobertas chegam diariamente naus carregadas de especiarias, ouro, tecidos - e escravos. A exploração do vasto território brasileiro deu início ao comércio de índios e mulatos para trabalhos forçados. Vistos como “povos inferiores”, necessitados de educação, passaram a servir como moeda de troca nos negócios entre mercadores e monarcas do velho continente. Contudo, a ganância dos monarcas portugueses e das suas gentes rapidamente transformou o comércio com as Índias e o Brasil numa constante dor de cabeça. Os assaltos de piratas estrangeiros às naus portuguesas que navegavam no Atlântico, a cobiça de outras monarquias europeias e a corrupção de muitos mercadores minaram as relações comerciais com as novas conquistas além-fronteiras. Além disso, os Muçulmanos em África lançaram ataques ferozes contra feitorias portuguesas, que a muito custo conseguiram ser salvas. Quando o jovem D. Sebastião subiu ao poder, em 1562, o país atravessava grave crise económica e social. O país viu no “Desejado” o monarca que iria mitigar a fome e recuperar um Império em decadência acelerada. Mas Sebastião morreu cedo, em Alcácer Quibir, e o País ficou subitamente sem rei. Uma intensa luta pela conquista do poder entregou a coroa nas mãos mais indesejadas: as de Filipe II de Espanha. O Governo de Filipe I deu início a um período de 60 anos em que Portugal foi uma mera colónia espanhola. 60 anos que, nas palavras do autor deste quarto volume, Ângelo Ribeiro, foram de “infâmia e ruína material”, contribuindo pesadamente para o declínio do Império Português. Caro Leitor, mais uma vez agradecemos a sua companhia nesta longa viagem pela História de um país rico de histórias. Os volumes 5 e 6, dedicados à Restauração da Independência e à Governação do Marquês de Pombal, chegarão até si antes do Natal. Gostaríamos também de saber a sua opinião ou reparo acerca desta coleção. Poderá fazê-lo através do nosso email [email protected] José Sousa Editor da Coleção “História de Portugal” D.Manuel I Um conjunto feliz de circunstâncias fortuitas fazia subir ao trono o nono filho do infante D. Fernando, irmão de D. Afonso V; o trágico desastre das margens do Tejo, a morte de seu irmão Diogo às mãos do rei, nos paços de Setúbal, e a decidida oposição da rainha, D. Leonor, sua irmã, nos projectos do marido a a favor do filho natural, tinham sido acontecimentos decisivos a contribuir para a fortuna de D. Manuel I, o Venturoso, como com razão a História lhe chamará. O régio poder passava para as suas mãos numa hora em que a nação, na sua marcha ascendente, ia atingir o momento culminante da grandeza e prosperidade. E, acompanhando o progressivo engrandecimento da nação, o poder que em suas mãos caía era um poder forte, cujo exercício não encontrava já a entravá-lo as limitações que durante séculos lhe tinham levantado as classes privilegiadas. O sonho henriquino de expansão que a nação perfilhara e porfiadamente vinha realizando, estava prestes a atingir o seu termo. As caravelas de Bartolomeu Dias, dobrado o Cabo da Boa Esperança, tinham já subido a costa africana do Índico até ao Rio do Infante e as informações que Pêro da Covilhã mandara da sua longínqua viagem tinham vindo trazer a certeza da possibilidade de alcançar por novo caminho o mundo das especiarias. No Norte de África a política de ocupação interrompida inteligentemente durante o reinado de D. João II ia encontrar agora, nos largos proveitos da empresa do Oriente, numerário bastante para novas proezas. Dentro do reino a luta secular entre o poder real e as classes privilegiadas cessara com a política enérgica de D. João II. E se veleidades houvesse ainda de resistência ao pleno exercício da autoridade real, a profunda remodelação económica provocada pela empresa da Índia iria acabar com elas. Toda a nação, deslumbrada pelo ouro do Oriente, passa a viver olhos fitos no mar, donde as naus afluem carregadas de riquezas. O trabalho árduo e pouco remunerador do grangeio da terra cede o passo à actividade mercantil e novas formas de riqueza aparecem, desvalorizando a terra que começa a sofrer da escassez de braços que a trabalhem. A Corte, num deslocamento simbólico, desce dos paços da Alcáçova para a beira do rio Tejo, para os Paços da Ribeira das Naus onde o rei, pela magnificência, pela vontade caprichosa, pelo amor do luxo, pela excessiva vaidade, lembra um verdadeiro monarca oriental, rodeado por uma nobreza não já territorial mas palaciana, nobreza que vive do agrado e da prodigalidade do rei, não da própria força. Assegurar o pleno exercício da autoridade real e explorar a empresa mercantil do Oriente serão as duas preocupações dominantes do monarca Venturoso. Na realização da primeira entra, logo no início do seu reinado, a política adoptada para com os judeus, tendo começado por lhes dar a liberdade que tinham perdido por não terem saído do reino no prazo marcado. Logo nos princípios de Dezembro de 1496, lança de Muge, apesar da opinião contrária de alguns dos seus conselheiros, um decreto de expulsão, pelo qual todos os que se não baptizassem deviam sair do reino, sob pena de confisco e morte, antes dos fins de Outubro de 1497, comprometendo-se o rei a facilitar-lhes navios para a saída em três portos do reino. Não expirava, porém, ainda o prazo concedido, ordena de novo, de Évora, no começo de Abril de 1497, que aos judeus fossem tirados os seus filhos menores, a fim de serem educados na fé cristã. E, redobrando de violência, quando cerca de 20 mil judeus se juntam em Lisboa para embarcarem, declara expirado o prazo marcado e no meio das mais atrozes cenas de violência obriga-os a uma conversão, fatalmente simulada. E, logo em seguida, uma imprevista mudança de atitude garante aos novos convertidos, sobre cuja sinceridade de crenças não podia ter dúvidas, liberdade de consciência e protecção. A lei de 4 de Maio de 1497 proibia que durante 20 anos se inquirisse das crenças dos novos convertidos, prazo que será prorrogado em 1512 por mais 16 anos. Em 1499 publica os alvarás de 20 e 21 de Abril tendentes a dificultar a saída do reino aos convertidos. Esta política contraditória de violência e de tolerância tem a sua explicação cabal nas razões várias que se impunham ao ânimo do rei. Por um lado, o desejo de agradar a sua futura mulher, a princesa D. Isabel, filha dos reis Católicos e viúva do desditoso príncipe D. Afonso, levou-o à publicação do decreto de expulsão. Não se iludia contudo D. Isabel sobre o entusiasmo com que D. Manuel publicara esse decreto, pois, já depois dele publicado e expirado quase o prazo da saída dos judeus, ainda escrevia a seu futuro marido, pedindo-lhe que se adiasse sua vinda para o reino para depois da expulsão definitiva. Por outro lado, os argumentos fortes que os adversários da expulsão lhe tinham exposto em conselho encontraram também eco no seu ânimo avisado. Daí o bárbaro expediente da conversão forçada, seguido das leis de tolerância: os judeus eram expulsos, mas os que se convertessem, embora só na aparência, não eram atingidos por tal medida. Quem não se iludiu com o hábil expediente posto em prática pelo rei que os cronistas hebraicos, reconhecidos, denominarão o Rei Pio, e certas famílias judaicas ficarão designando o Rei Judeu, foi a grande massa da nação, inimiga secular do elemento judaico que nos cristãos-novos continua a ver os antigos judeus. Ao rei o que interessava contudo era, por um lado, agradar a sua noiva e Reis Católicos, e, por outro, acabar dentro do reino com a existência de um corpo estranho, cuja forte individualidade resistira sempre às influências do meio ambiente. O que lhe interessava era que os judeus, embora no seu foro íntimo o continuassem a ser, fossem como cristãos-novos, vassalos como os outros, sem leis e privilégios próprios. Nas Ordenações Manuelinas desaparecem as disposições que nas Afonsinas davam vida jurídica à parte ao elemento judaico; vassalos como os outros, os judeus conversos encontram no rei toda a protecção contra a fúria popular quando esta, por fanatismo religioso e por ódio ao usurário que o judeu acima de tudo representava a seus olhos, se desencadeia irreprimível. É com decidido rigor que D. Manuel castiga os responsáveis pelo massacre que durante três dias, em Abril de 1506, ensanguenta as ruas de Lisboa, com cerca de quatro mil vítimas, só se detendo a fúria popular por “cansada de matar e desesperada de poder fazer mais roubos dos que já tinha feito” - mais de 50 responsáveis são condenados à morte, entre eles os dois frades que de cruz alçada mais tinham incitado a populaça. E porque toda a cidade fora de um certo modo responsável pela vergonha que em suas ruas se desenrolara, extingue a Casa dos Vinte e Quatro e retira-lhe os títulos de nobre e leal de que ela se orgulhava, só lhos restituíndo dois anos depois, a pedido da rainha. É movido ainda pelo mesmo desejo de sujeitar todo o corpo da nação a uma mesma norma jurídica que D. Manuel ordena, logo no início do seu reinado, a reforma dos forais, códigos das seculares franquias municipais. Aparentemente o rei limitava-se a satisfazer uma velha aspiração dos procuradores do Terceiro Estado que já nos dois reinados anteriores mais de uma vez tinham protestado contra os abusos dos senhores que, valendo-se das falsificações a que se prestavam documentos redigidos num latim bárbaro, a pouco e pouco obliterado, atentavam contra as liberdades contidas nesses documentos. Em mais de umas cortes eles tinham pedido que os seus forais fossem revistos pelo juiz dos feitos do reino; mas só D. Manuel satisfaz essa reclamação, mas não no sentido que os povos desejavam. Vencidas as duas classes privilegiadas, a Coroa não precisava já tanto do apoio que durante séculos encontrara no braço popular. O poder real era já suficientemente forte para se opor também à dispersão de soberania que os forais simbolizavam. Ordenando a sua revisão, o rei não pretendia restabelecer na sua primitiva pureza as liberdades públicas neles consignadas. O que lhe interessava sobretudo era actualizar os encargos tributários. As condições económicas eram agora diferentes, pois a actividade agrícola passara para um segundo plano. O que importava, na mira de um maior rendimento, era fixar na moeda corrente os valores monetários designados nos primitivos forais, pôr termo ao isolamento da vida local, fazer da nação um organismo único a vibrar em uníssono sob o impulso forte do poder central. Os novos forais, o primeiro dos quais foi o de Lisboa, assinou o rei em Agosto de 1500, são mais pautas aduaneiras do que códigos políticos. Em obediência a esse mesmo plano de reforma tributária, são publicados novos Regimentos das Sisas, dos Contadores, da Fazenda e da Casa da Índia, que figurarão todos nas Novas Ordenações de 1521. O sonho de uma união peninsular, sob a égide de Portugal, que já os dois monarcas anteriores tinham acalentado, torna a ser retomado por D. Manuel. Continuando a política de aproximação das duas casas reinantes da Península, por via matrimonial, D. Manuel casa, em Outubro de 1497, com a infanta D. Isabel. Logo após esse casamento, a morte do príncipe D. João, primogénito dos Reis Católicos, faz de D. Manuel e de sua mulher os legítimos herdeiros das coroas de Castela, Leão e Aragão. Porém, quando D. Manuel regressa ao reino da sua viagem a Toledo e a Saragoça, onde fora reconhecido como herdeiro dessas coroas, já o sonho peninsular se começa a desfazer: sua mulher morrera durante o parto. Restava o pequenino D. Manuel da Paz, que junto dos avós ficara, jurado já por herdeiro de Castela e de Aragão e que D. Manuel se apressou a fazer jurar também por herdeiro de Portugal. Porém, as cortes reunidas para tal fim, em Lisboa (1499), só fazem quando D. Manuel tranquiliza o seu patriotismo alvoroçado com o compromisso, tomando em nome do filho, de que, se algum dia os reinos de Portugal e Castela viessem a unir-se, “nunca o regimento da justiça e fazenda dos reinos e senhorios de Portugal, em qualquer tempo e por qualquer caso que diante pudesse suceder, fôsse dado nem concedido senão a Portugueses, e o mesmo o das capitanias dos lugares de África, e alcaides-mores de vilas e castelos”. Mas a morte do pequeno príncipe em breve lança por terra o ambicioso plano de D. Manuel. Após dois anos de viuvez, D. Manuel casa de novo, agora com a sua cunhada, a infanta D. Maria, terceira filha dos Reis Católicos. Desse matrimónio nascerão dez infantes, entre eles o príncipe D. João, herdeiro da Coroa (1502), D. Isabel, a futura Imperatriz esposa de Carlos V. D. Luís, o que terá por mestre nas artes liberais Pedro Nunes, D. Afonso, futuro arcebispo de Lisboa e cardeal, D. Henrique, o futuro cardeal-rei, e D. Duarte, que casará com D. Isabel, filha de D. Jaime, quarto duque de Bragança. Em 1518, já de novo viúvo, D. Manuel casará com a infanta D. Leonor, irmã de Carlos V, a qual, enviuvando em 1521, irá ainda cingir a coroa de França pelo seu casamento com Francisco I, deixando no reino a sua filha, a infanta D. Maria, princesa culta, discípula dialecta de Luísa Sigeia, a prometida noiva de tanto príncipe, por quem terá pulsado talvez o coração de Camões. Á data do seu segundo casamento, em 1500, D. Manuel acrescentava já ao título de Rei de Portugal e dos Algarves, daquém e dalém-mar em África, senhor da Guiné, o complemento honroso da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Pérsia, Arábia e da Índia. Na mão da sua segunda mulher ele podia depor já, como rico presente de noivado, todo o comércio da Índia que a descoberta do novo caminho marítimo para o Oriente ia entregar a Portugal. A 10 de Junho de 1499 chegara a Cascais a nau de Nicolau Coelho com a boa nova do feliz êxito alcançado pela pequena armada que dois anos antes partira da praia do Restelo. Dois meses depois, a 9 de Setembro, chega ao Tejo o próprio Vasco da Gama, que a doença e morte de seu irmão, Paulo da Gama, retivera no caminho.
